Descubra o que é dislexia, seus sinais e impactos no cotidiano. Entenda por que o acolhimento e o diagnóstico precoce são essenciais e o que podemos fazer para construir um cuidado mais justo e eficaz.
Falar sobre dislexia é uma medida e uma necessidade de justiça cognitiva em um país onde os obstáculos ao aprendizado começam cedo e se acumulam ao longo da vida.
O Brasil carrega uma histórica dívida com a educação de base, e nesse contexto desigual, transtornos específicos de aprendizagem costumam passar despercebidos, mal interpretados ou até mesmo negados.
A dislexia, em especial, é frequentemente confundida com preguiça, desinteresse, desatenção ou, pior ainda, com incapacidade intelectual.
Essa miopia institucional e cultural gera consequências profundas na vida de crianças que crescem acreditando que o problema são elas.
O objetivo deste texto é acabar com todo estigma associado a dislexia, jogar luz sobre o que realmente é a dislexia, quais são seus principais sinais, os desafios enfrentados por quem convive com ela e os caminhos que podemos construir para uma intervenção mais eficaz, sensível e baseada em evidências.
Sumário
O que é dislexia?
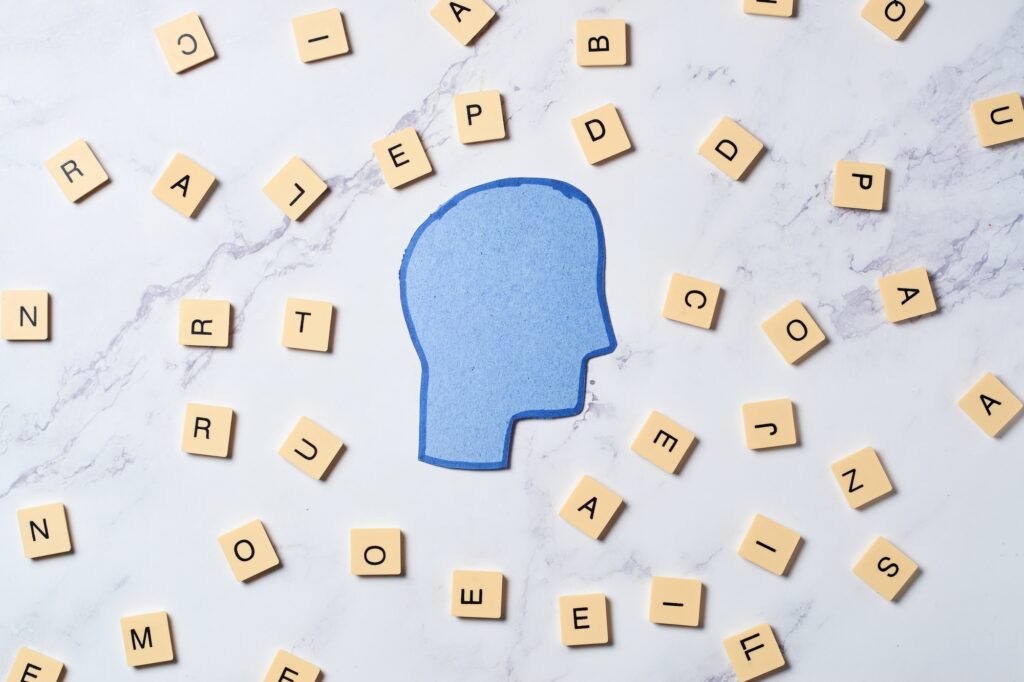
A dislexia é um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica. Isso significa que ela está relacionada à forma como o cérebro processa a linguagem escrita e falada, mais especificamente no que diz respeito à consciência fonológica, à decodificação e à fluência na leitura. Trata-se de uma dificuldade persistente, que não se resolve apenas com esforço ou reforço escolar e que não está associada a uma menor capacidade intelectual, problemas emocionais ou baixa estimulação em casa.
De acordo com a Associação Brasileira de Dislexia, os sinais costumam surgir já nos primeiros anos escolares, com crianças que demonstram dificuldade em aprender o alfabeto, formar palavras, reconhecer rimas ou compreender a lógica dos sons. Esses desafios podem se manifestar de forma mais sutil ou intensa, e afetam diretamente o desempenho na leitura, na escrita e, em muitos casos, até na organização do pensamento verbal.
O problema central não está na visão ou na audição, mas em como o cérebro codifica as informações fonológicas. Isso impacta diretamente a capacidade de identificar fonemas, associar sons às letras, reconhecer palavras automaticamente e ler com fluência. Como consequência, a criança pode apresentar lentidão para ler, cometer inversões ou omissões de letras, ter escrita espelhada ou apresentar dificuldades na ortografia e na compreensão textual.
Casos no Brasil e no mundo
Segundo a Associação Brasileira de Dislexia, essa é uma condição que atinge cerca de 5% a 17% da população mundial.
Mesmo assim, no Brasil, os índices ainda são subnotificados, principalmente pela ausência de formação continuada de professores e pela precariedade do sistema de avaliação psicopedagógica nas escolas públicas. O resultado é um número incalculável de crianças e adolescentes que não conseguem aprender no tempo esperado e não por incapacidade, mas por falta de acolhimento da sua diferença.
Segundo um estudo feito pela Universidade Federal de Rondônia os impactos da dislexia ultrapassam o campo pedagógico, uma vez que, ao vivenciar fracassos recorrentes e receber rótulos negativos, muitos alunos desenvolvem sentimentos de inadequação, baixa autoestima e insegurança, o que aprofunda ainda mais as barreiras ao aprendizado e os tornam mais suscetíveis a desenvolverem transtornos de ansiedade e depressão. Isso cria um ciclo perverso, onde a criança que mais precisa de apoio é justamente aquela que menos encontra caminhos viáveis dentro da estrutura escolar tradicional.
Portanto, dislexia não é desatenção, não é falta de esforço e não é um obstáculo intransponível. É uma condição legítima, reconhecida por órgãos internacionais de saúde e que, quando identificada precocemente e acompanhada com estratégias adequadas, permite que o indivíduo desenvolva todo o seu potencial de forma plena e autônoma.
Como reconhecer os principais sinais da dislexia
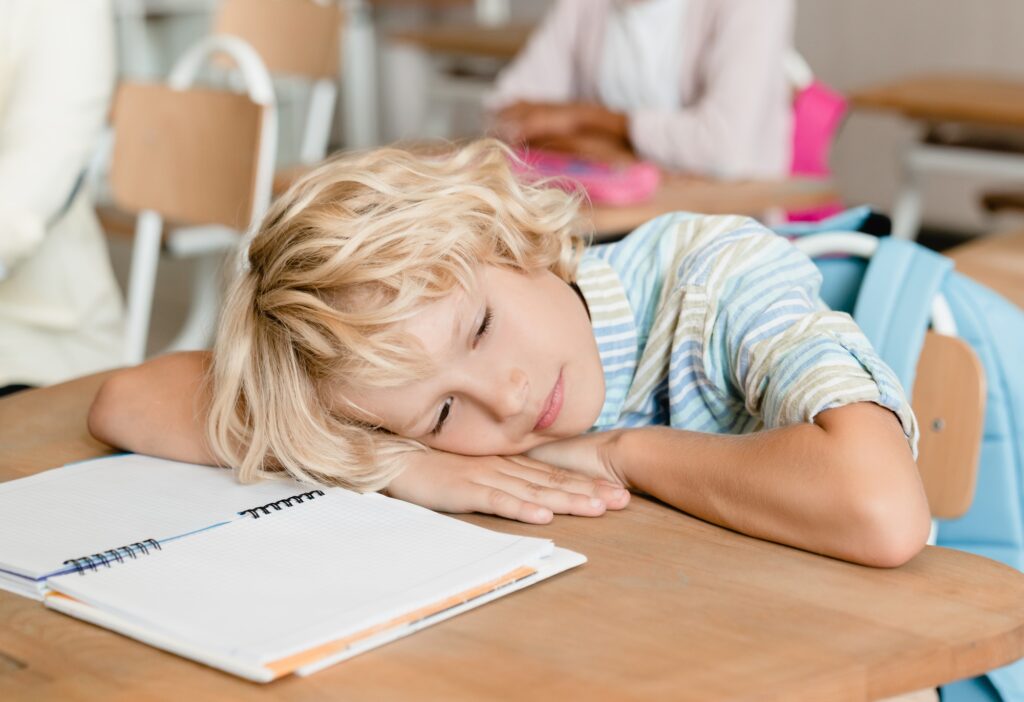
Entender a dislexia é um desafio que começa, invariavelmente, pelo reconhecimento cuidadoso dos seus sinais mais característicos. Essa não é uma tarefa simples, nem automática.
A dislexia não é óbvia.
Ela não se revela com clareza nas primeiras dificuldades escolares, nem sempre é reconhecida por professores ou familiares, e quase nunca é tratada com a urgência que merece.
Em geral, crianças disléxicas passam anos sendo mal interpretadas, vistas como desatentas, preguiçosas ou com dificuldade de aprendizagem quando, na verdade, o que elas vivem é uma condição neurológica legítima, persistente e profundamente impactante.
É nesse contexto que reconhecer os sinais da dislexia se torna uma necessidade pública e um ato de cuidado. A seguir, veja os principais indícios de dislexia que os educadores, cuidadores e profissionais da saúde devem se manter atentos:
1. Dificuldade para associar letras a sons (consciência fonológica)

Este é, talvez, o núcleo da dislexia.
A consciência fonológica, ou seja, a capacidade de perceber e manipular os sons da fala, costuma estar comprometida em pessoas com dislexia. Isso significa que a criança pode ter dificuldade em compreender que a letra “b” está ligada ao som /b/, ou que a palavra “bola” começa com o mesmo som de “bicho”.
Essa desconexão entre som e símbolo gráfico afeta diretamente a alfabetização e está entre os primeiros sinais que podem ser percebidos por professores atentos.
2. Erros persistentes de ortografia, mesmo com treino repetido
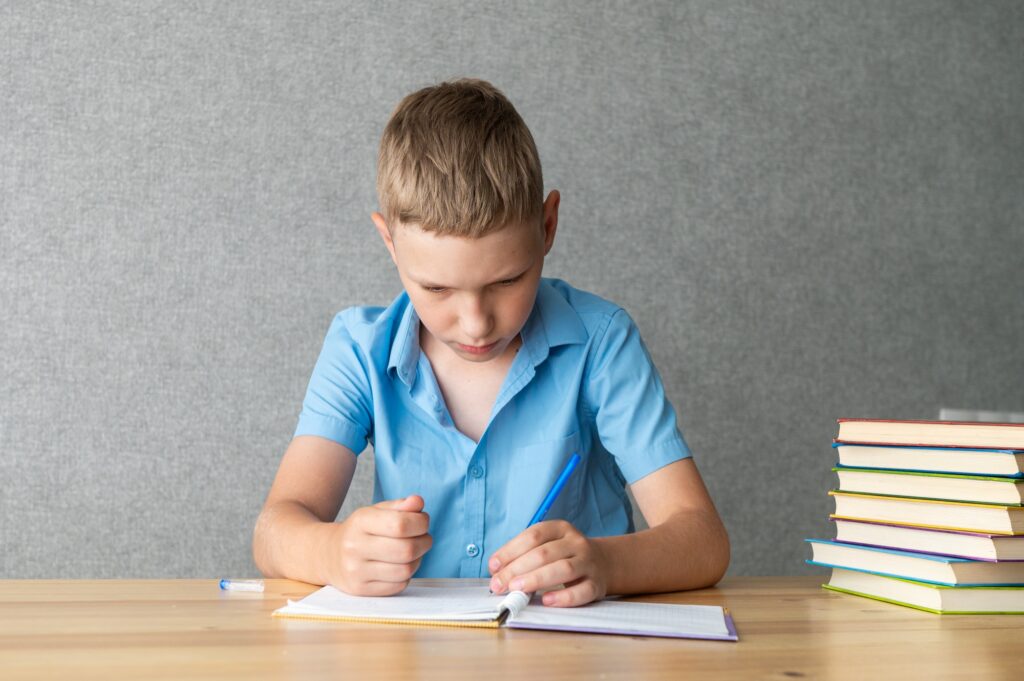
Escrever palavras simples com erros aparentemente “infantis”, mesmo após anos de escolarização, é um dos sinais mais recorrentes. A ortografia não se fixa com facilidade, mesmo quando há esforço, repetição e correção.
O problema não é falta de atenção: é o modo como o cérebro da pessoa disléxica processa e armazena as regras e padrões da escrita.
Palavras com sons semelhantes, mas ortografias diferentes, tendem a gerar ainda mais confusão.
3. Leitura lenta, com pausas frequentes e pouca compreensão do texto
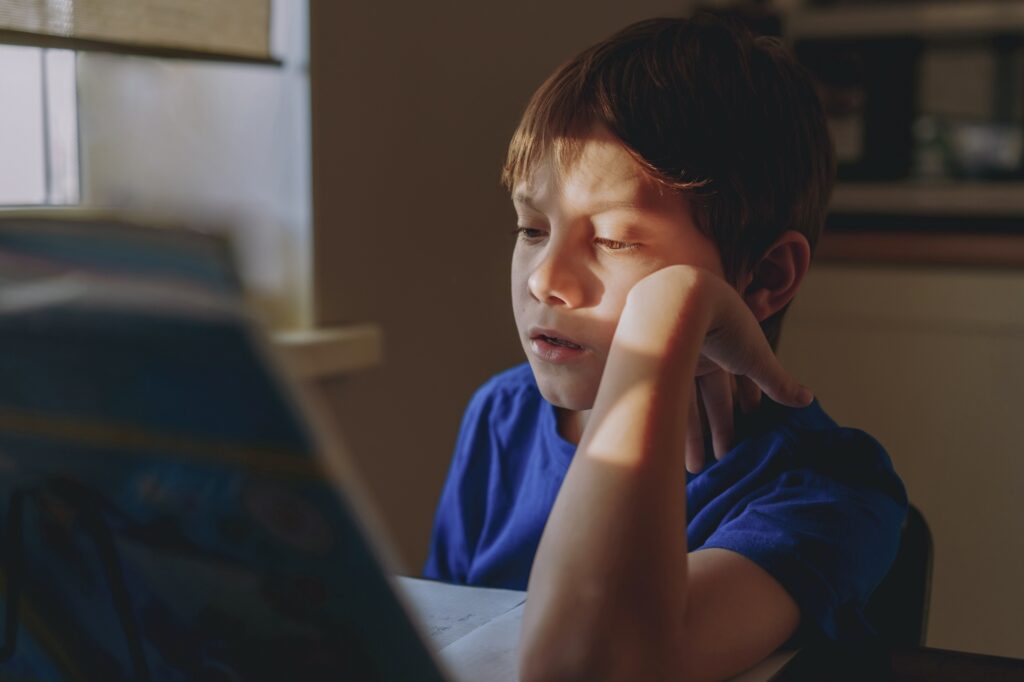
A fluência leitora é comprometida desde o início.
A leitura de uma criança com dislexia costuma ser vagarosa, truncada, com hesitações frequentes e dificuldade em manter o ritmo. Além disso, o esforço para decodificar cada palavra pode ser tão grande que compromete a compreensão do texto como um todo.
Ou seja, o foco da criança se concentra tanto em “ler corretamente” que sobra pouca energia cognitiva para entender o que está sendo lido.
4. Escrita espelhada ou com inversão de letras e sílabas
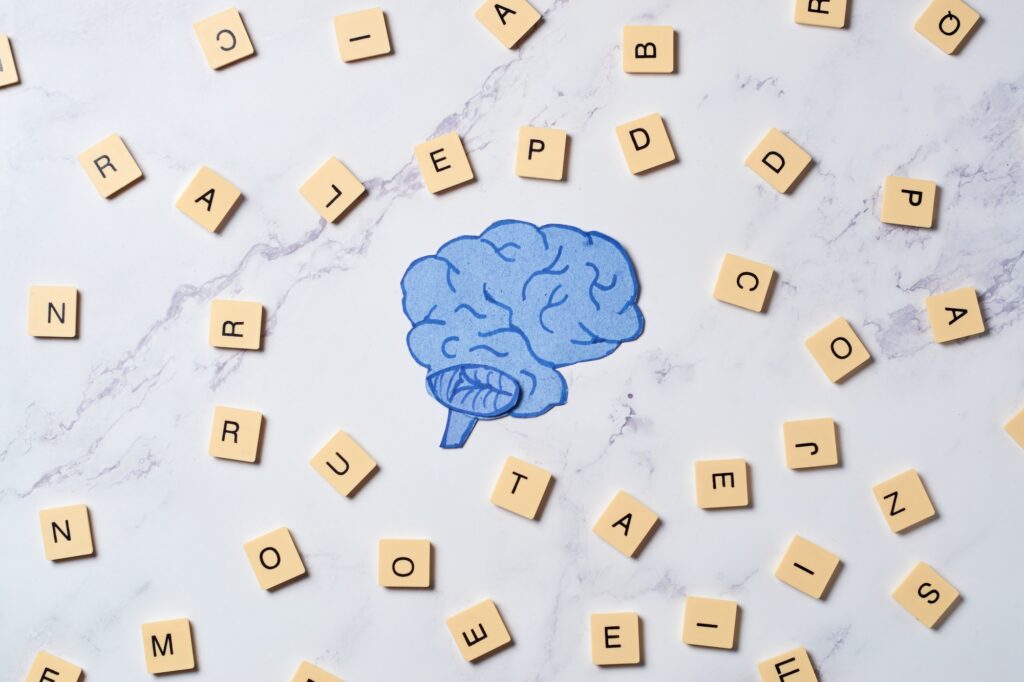
Inverter letras (“b” por “d”, “p” por “q”) ou escrever palavras com sílabas trocadas (“pato” por “topa”) são erros comuns em fases iniciais da alfabetização, mas quando esses padrões se mantêm por muito tempo, podem indicar dislexia.
A escrita espelhada, em especial, pode ser um sintoma de que há dificuldade na percepção espacial e na fixação da orientação correta dos grafemas.
5. Troca de fonemas semelhantes (como “p” por “b”, “d” por “t”)

Essa troca fonêmica está ligada à dificuldade de discriminação auditiva – a capacidade de diferenciar sons parecidos.
Mesmo quando a audição está normal, a pessoa com dislexia pode confundir fonemas porque o cérebro não consegue distinguir com clareza sons que, para outras pessoas, são facilmente diferenciáveis. Esse sintoma afeta tanto a fala quanto a escrita e reforça a necessidade de intervenções específicas.
6. Dificuldade em copiar da lousa ou organizar ideias no papel

O simples ato de copiar uma frase da lousa pode se tornar um exercício de frustração.
O aluno disléxico comumente pode pular palavras, inverter ordens ou se perder na estrutura da frase. Organizar pensamentos no papel, construir frases com coesão ou manter uma linha de raciocínio coerente também são desafios persistentes, especialmente quando não há mediações adequadas no processo pedagógico.
7. Baixa memória de curto prazo e dificuldades em sequenciar informações

A memória de curto prazo costuma ser impactada em pessoas com dislexia, o que dificulta a retenção de instruções verbais e a execução de tarefas que exigem sequenciamento.
Por exemplo: seguir a ordem correta de letras em uma palavra, lembrar instruções com várias etapas ou organizar eventos narrativos em uma história são tarefas que exigem esse tipo de memória. Quando ela está comprometida, todo o processo de aprendizagem sofre interferência.
Esses sinais não devem ser ignorados nem subestimados.
Quando não reconhecidos a tempo, eles constroem uma trajetória escolar marcada por frustração, sentimento de inadequação e repetição de fracassos que poderão marcar a vida inteira dessa criança.
Portanto, se existe uma lição central aqui, é esta: identificar os sinais da dislexia é um compromisso com a equidade educacional.
Quanto mais cedo se reconhece, mais eficazes podem ser as intervenções, e maiores as chances de que aquela criança – antes desacreditada – encontre um caminho real para aprender, criar, participar e pertencer.
Dislexia e escola: o desconhecimento que fragiliza

Em um país marcado pela desigualdade educacional, esperar que todas as crianças aprendam da mesma forma é injusto e contraproducente.
A dislexia, sendo um transtorno específico de aprendizagem que impacta diretamente a decodificação da linguagem escrita, costuma se manifestar justamente no ambiente escolar, onde a leitura e a escrita se tornam requisitos centrais da aprendizagem. É nesse território que ela mais sangra – e, não raro, mais é negligenciada.
O estudo desenvolvido por Francilene Barbosa da Silva na Universidade Federal de Rondônia (2021) lança luz sobre uma questão estrutural: a maior parte dos professores da educação básica desconhece os sinais da dislexia e, portanto, não possui ferramentas mínimas para acolher um aluno que apresenta dificuldades consistentes em leitura e escrita.
Sem esse conhecimento, o que sobra é interpretação rasa e julgamento: o aluno que troca letras é rotulado como desatento, o que escreve devagar é considerado preguiçoso, o que tem dificuldade de ler em voz alta é tachado de tímido e pouco esforçado.
Mesmo que esses profissionais e familiares não imaginem, esse desconhecimento tem consequências profundas no aprendizado.
A criança disléxica, quando não compreendida, acumula uma experiência escolar marcada por frustração e pela sensação de fracasso. A cada palavra lida com dificuldade, a cada redação reprovada, a cada exposição oral que termina em riso ou constrangimento, o que está em jogo não é apenas o desempenho acadêmico, é o senso de valor próprio.
A autoestima aos poucos, vai sendo corroída e o prazer de aprender se transforma em evitação. E o que poderia ser um percurso de descobertas torna-se um caminho de retraimento.
É possível transformar esse cenário
Para enfrentar esse cenário, não basta esperar que os professores “percebam” por conta própria. É necessário que tenhamos um compromisso institucional. Isso implica investir em formação continuada, especialmente sobre neurodesenvolvimento e transtornos de aprendizagem.
A dislexia precisa deixar de ser um conhecimento periférico, tratado apenas em cursos especializados, para ocupar o centro da formação docente junto a outras neurodivergências que cada vez mais tem feito parte da rotina desses profissionais com turmas diversas. Além disso, escolas precisam contar com equipes multiprofissionais – psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos -que possam oferecer triagem precoce, orientação às famílias e estratégias adaptativas de ensino.
Sem esse suporte, seguimos condenando alunos a um fracasso que não é deles.
O erro não está em quem aprende diferente, mas em quem insiste em ensinar igual para todos, ignorando as evidências de que o cérebro humano é plural por natureza.
Diagnóstico e acompanhamento: a urgência de um olhar clínico, ético e coletivo

Identificar a dislexia vai muito além de aplicar um teste ou verificar se a criança troca letras.
O diagnóstico, como reforça o material da Associação Brasileira de Dislexia (ABD), exige um processo de escuta atenta e avaliação multidisciplinar. Não estamos falando de um “checklist” de sintomas, mas de compreender profundamente como aquele sujeito se relaciona com a linguagem, com o tempo, com a escola e com o mundo.
Segundo o Hospital Albert Einstein, um diagnóstico confiável de dislexia deve ser feito a partir de uma avaliação neuropsicológica completa, conduzida por profissionais experientes, com instrumentos validados cientificamente.
Mas isso é apenas uma parte do processo.
A observação da rotina escolar, os relatos da família, as percepções dos professores e a exclusão de outras causas médicas ou sensoriais como: perda auditiva, problemas visuais ou quadros de déficit de atenção também são fundamentais.
E aqui está um ponto importante: o diagnóstico não é um rótulo, ele é uma ferramenta. Quando bem conduzido, ele oferece um mapa.
Não aponta apenas as dificuldades, apenas revela caminhos possíveis, recursos disponíveis e orientações estratégicas para a melhora da condição de vida da pessoa. Uma criança disléxica que tem seu quadro reconhecido e compreendido pode, com as intervenções adequadas, desenvolver autonomia, autoconfiança e repertório. Mas isso exige um plano de acompanhamento individualizado, respeitoso e contínuo.
Adaptações que o acompanhamento pode proporcionar
O processo de acompanhamento de uma criança com dislexia não pode se restringir a reforços esporádicos ou a cobranças por desempenho. Ele exige uma reformulação consciente das práticas pedagógicas e clínicas, orientada por evidências e pelo compromisso com a equidade.
A seguir, detalhamos algumas das principais estratégias que, quando bem aplicadas, podem gerar impactos profundos na trajetória escolar e emocional do estudante disléxico:
- Ensino multissensorial
O ensino multissensorial parte do princípio de que o cérebro aprende melhor quando estimulado por diferentes canais sensoriais simultaneamente — visão, audição, tato e até movimento. Isso significa que, em vez de trabalhar apenas com a leitura visual, o professor pode utilizar letras em relevo, jogos sonoros, atividades táteis e manipulação de letras móveis para favorecer a associação entre fonema e grafema. O método é especialmente eficaz porque respeita as particularidades de processamento de cada aluno e ajuda a consolidar a memória fonológica e ortográfica de forma mais concreta.
- Apoio à leitura fonológica
Diferentemente de práticas que priorizam apenas a memorização visual de palavras, o apoio à leitura fonológica foca na estrutura da linguagem: sílabas, sons, rimas, segmentações. É uma intervenção essencial para crianças disléxicas, que costumam apresentar dificuldades justamente na percepção e manipulação dos fonemas. Com esse tipo de suporte, o aluno passa a compreender que palavras são compostas por unidades sonoras e que a leitura não é um processo arbitrário, mas sistemático — o que reduz a ansiedade diante dos textos e melhora gradualmente a fluência.
- Organização visual do conteúdo
Pessoas com dislexia se beneficiam de ambientes visuais claros, objetivos e organizados. Isso envolve desde a formatação dos materiais (com fontes ampliadas, espaçamento adequado entre linhas, uso de cores para destacar informações-chave) até a organização do quadro em sala e da disposição dos estímulos em provas ou tarefas escritas. Essa estrutura visual reduz a sobrecarga cognitiva, facilita o foco e contribui para que o conteúdo seja processado com mais clareza, evitando distrações causadas por excesso de estímulos desnecessários.
- Intervenções complementares conduzidas por fonoaudiólogos e psicopedagogos
Além do apoio em sala de aula, o acompanhamento clínico com profissionais especializados é um pilar essencial. O fonoaudiólogo atua diretamente na reabilitação das habilidades linguísticas, fonológicas e articulatórias, utilizando técnicas específicas para o perfil disléxico. Já o psicopedagogo investiga os obstáculos na aprendizagem a partir de uma escuta pedagógica sensível, promovendo estratégias personalizadas que consideram a singularidade do aluno. Quando escola, família e equipe clínica dialogam, a criança deixa de ser vista como “problema” e passa a ser reconhecida como alguém que aprende de outro modo — e que pode, sim, avançar.
Nesse processo, a família precisa ser incluída desde o início, onde ela deve receber orientações claras sobre o quadro, aprender a reconhecer os sinais de cansaço ou sobrecarga, oferecer suporte emocional e, sobretudo, cultivar uma escuta ativa que valorize as pequenas conquistas cotidianas. Por outro lado, a escola deve assumir corresponsabilidade, revendo suas práticas avaliativas, flexibilizando currículos quando necessário e, principalmente, investindo em formação continuada.
A dislexia não é uma sentença, é uma condição que, quando compreendida, abre portas para um modelo educacional mais sofisticado, plural e ético.
O erro não está no aluno que tropeça nas palavras, está nas estruturas que se recusam a adaptar seus caminhos.
O papel do acompanhamento, portanto, não é apenas facilitar o acesso ao conteúdo. É transformar a forma como olhamos para quem aprende diferente. É garantir que a escola seja, de fato, um lugar de desenvolvimento — e não de exclusão silenciosa.
O papel da família e da comunidade: romper o silêncio e construir suporte real

A criança disléxica não vive apenas na escola, ela vive em casa, nas ruas, nas redes, nas conversas familiares. E é justamente por isso que o enfrentamento da dislexia exige uma abordagem que vá além do diagnóstico clínico.
Envolve mudar mentalidades, reconstruir expectativas e cultivar um ecossistema de apoio contínuo.
A família é o primeiro espaço de acolhimento de uma criança, quando bem informada, ela se torna coadjuvante no processo de aprendizagem.
Isso não significa assumir o papel de educador ou terapeuta.
Significa saber escutar, respeitar o tempo da criança, reforçar suas conquistas e protegê-la de discursos punitivos que a façam acreditar que ela é menos capaz. Também significa buscar, com persistência, os profissionais adequados, cobrar políticas públicas de inclusão e não aceitar explicações simplistas para dificuldades complexas.
O papel da comunidade
A comunidade, por sua vez, precisa romper o silêncio que ainda cerca os transtornos de aprendizagem e outras neurodivergências. A dislexia segue sendo um tabu em muitos espaços escolares e familiares.
Ainda é comum ouvir que “é só preguiça”, “vai passar com o tempo” ou “todo mundo tem dificuldade de ler”.
Essa banalização impede que a condição seja tratada com a seriedade que merece e faz com que muitas pessoas passem a vida inteira sem compreender por que sempre se sentiram em descompasso com os outros.
Precisamos fomentar uma cultura de letramento neurodivergente. Isso começa com campanhas informativas, livros acessíveis, representações positivas na mídia e, principalmente, políticas públicas que garantam diagnósticos precoces e atendimento multiprofissional gratuito no SUS e nas redes municipais de educação.
Cuidar da criança com dislexia é também cuidar do mundo que a cerca. É plantar as bases de uma sociedade menos capacitista, mais justa onde o ritmo de cada um seja respeitado, e não medido com a régua de um único padrão de aprendizagem.
A Braine e o compromisso com a neurodiversidade
A Braine nasceu com um propósito simples, mas nada modesto: revolucionar o cuidado com a saúde mental, especialmente para pessoas neurodivergentes.
Em um mundo onde diagnósticos ainda são tabu, tratamentos são generalizados e a escuta é rasa, a Braine aposta em um caminho mais profundo, mais ético e mais humano – onde ciência, tecnologia e singularidade caminham juntas.
A dislexia é uma das condições mais comuns e mais invisibilizadas nesse cenário. E para quem é neurodivergente, a falta de atenção e respeito com a sua diferente forma de aprender costuma ser o pior desafio enfrentado nessa jornada de aprendizado. Afinal, como aprender se ainda insistem em te chamar de burro e preguiçoso? Como ter vontade de ir para a escola quando os educadores ainda tem dificuldade de adaptar o conteúdo por falta de apoio? Como oferecer suporte que respeite a diferença, sem patologizar a existência?
A resposta está na personalização, na escuta que acolhe sem julgar, na tecnologia que entende, e não impõe.
É por isso que a Braine existe: para desenvolver soluções que olhem para o sujeito inteiro – não só para o sintoma, o laudo ou o comportamento observado. Nós acreditamos que saúde mental de verdade não se faz com manuais. Se faz com presença, com inteligência e com coragem.
Aura-T, Bruna e Care360: Tecnologia com propósito para transformar a saúde mental de pessoas neurodivergentes
A Braine desenvolve soluções tecnológicas pensadas especificamente para entender e cuidar da saúde mental de pessoas neurodivergentes em contextos diversos — da clínica ao ambiente corporativo.
Conheça os nossos produtos:
Um sistema de apoio à decisão clínica com inteligência artificial, voltado para profissionais de saúde mental que atendem pessoas neurodivergentes. O Aura-T ajuda a identificar padrões, sugerir caminhos diagnósticos e construir planos terapêuticos personalizados com base em evidências, sem abrir mão da escuta e da singularidade de cada paciente.
- Bruna:
Uma assistente virtual desenvolvida para acolher, informar e orientar pessoas neurodivergentes durante crises. Com linguagem acessível, conteúdo baseado em ciência e escuta empática. A Bruna está em constante aprendizado para se adaptar às necessidades emocionais, cognitivas e sensoriais de cada usuário, tornando o cuidado com a saúde mental mais próximo, mais inclusivo e mais respeitoso.
- Care360:
Uma plataforma de cuidado integral que conecta pessoas neurodivergentes, suas famílias e profissionais da saúde em uma rede colaborativa de suporte, acolhimento e orientação.
Na Braine, a tecnologia é uma ferramenta de escuta. E a escuta é o primeiro passo para qualquer transformação real.
Venha fazer parte da nossa história
Se você chegou até aqui, é porque sabe que inclusão não se faz com boa vontade — se faz com conhecimento, atitude e escuta. No nosso blog, mergulhamos fundo em temas como neurodiversidade, saúde mental, inovação e tecnologia inclusiva. Tudo isso com uma linguagem acessível, crítica e com aquele toque de rebeldia que move a Braine.
Lá você encontra reflexões provocativas, guias práticos e análises que desafiam o senso comum. É conteúdo feito para quem quer pensar diferente — e agir diferente.
Clique aqui e acesse o blog da Braine — porque mudar o mundo começa com mudar a forma como você o enxerga. E, claro, esteja presente no II Encontro de Informação e Saúde: Neurodiversidade 2025 nos dias 4 a 8 de agosto— um espaço para ampliar diálogos e redesenhar, juntos, os caminhos da saúde mental.
